A guerra de cem anos entre judeus e árabes na Palestina existe em duas dimensões distintas: a histórica e a ideológica. A primeira, com suas verdades precárias e suas múltiplas sombras, desenrola-se como um drama de dois nacionalismos conflitantes, embebidos por signos religiosos e situados no terreno de disputas geopolíticas entre as potências mundiais. A segunda, iluminada por certezas intensas, implacáveis como o sol do deserto, tolda a compreensão da primeira.
Cada uma das explosões de violência da guerra sem fim amplifica o ruído produzido pelos ideólogos e estreita um pouco mais o espaço de análise histórica do conflito. A guerra real converte-se em pretexto para a mobilização das forças de outra guerra, travada na esfera das narrativas, que bombardeia todos com os obuses do maniqueísmo. Jerusalém, a cidade, torna-se Jerusalém, a metáfora.
Sob a perspectiva dos ideólogos pró-Israel, Jerusalém é a metáfora de um posto avançado do Ocidente na terra dos bárbaros. Toda a narrativa da guerra reflete um confronto épico entre a ordem democrática e o terror. Segundo seu cânone, Israel é uma democracia – a única do Oriente Médio – e essa condição lhe confere uma legitimidade especial, que abrange inclusive o direito de ocupar os territórios palestinos e continuar a expandir assentamentos israelenses em meio a processos de paz.
Os árabes da Palestina, dos beduínos errantes figurados pela mitologia sionista, passaram a constituir uma nação de terroristas, o que se atesta pelo fato de seus dirigentes políticos serem, invariavelmente, apresentados como líderes de organizações terroristas. Ontem, Yasser Arafat foi designado como interlocutor inviável, por colaborar com o terror. Hoje, o Hamas é apontado como interlocutor ainda mais inaceitável, por funcionar como o ventre do qual emerge o terror. A democracia tem um direito ilimitado de reagir ao terrorismo, mesmo à custa das vidas de centenas de civis palestinos, e a crítica moral aos atos de Israel equivale a uma cooperação tácita com as forças ocultas do terror.
Como o cinema, a narrativa ideológica emerge do truque da montagem. Israel, efetivamente, é uma democracia – e nos jornais israelenses se encontra a mais dura crítica moral à guerra em Gaza. Mas é uma estranha democracia, tisnada pelo fundamentalismo judaico, pelo impulso expansionista do sionismo e pela prática sistemática da tortura em prisões comandadas pelo serviço secreto. O terror é, de fato, um expediente que exige condenação incondicional e quase todas as principais organizações palestinas praticaram atos de terror. O expediente abominável, contudo, foi utilizado, sempre com efeitos contraproducentes, pelos mais distintos movimentos nacionalistas, inclusive pelos judeus que se estabeleciam no mandato britânico da Palestina.
A decisão de David Ben Gurion de afundar um navio carregado de armas que se destinavam a uma organização terrorista sionista representou a verdadeira inauguração do Estado de Israel, um mês depois da independência formal. No seu dia, o Estado Palestino terá de passar pelo mesmo teste de fogo, pois o monopólio da violência legítima é o atributo mais crucial da soberania. Mas os terroristas provavelmente se tornarão líderes políticos respeitados e, como aconteceu com o israelense Menachem Begin, algum deles talvez venha a ocupar a chefia de governo.
Sob a perspectiva dos ideólogos pró-palestinos, Jerusalém é a metáfora da resistência à opressão imperialista: o lugar do heroico martírio de um povo submetido ao tacão combinado dos judeus e dos EUA. Aqui, a narrativa da guerra funciona como uma represa onde se misturam as águas sujas do antissemitismo clássico e do antiamericanismo contemporâneo. No fim das contas, esta narrativa celebra a aliança entre os regimes árabe-muçulmanos autoritários e uma esquerda decomposta que nada aprendeu e nada esqueceu.
De acordo com ela, Israel não é o fruto de um movimento nacionalista e do holocausto promovido pelo nazismo, mas um enxerto artificial na terra árabe e, além disso, um peão dos EUA no Oriente Médio petrolífero. A despossessão dos palestinos não é o resultado das estratégias fracassadas conduzidas pelos regimes árabes, mas o fruto inevitável de uma conspiração judaico-americana. O Estado judeu mimetiza e perpetua o nazismo, engajando-se em massacres gratuitos de civis e, mais amplamente, no genocídio do povo palestino. Uma nota oficial do PT sobre a guerra em Gaza se articula em torno dessas linhas – as mesmas que orientam os discursos oficiais do Irã e da Síria.
A narrativa ideológica emana de uma manipulação seletiva da história. Os sionistas originais eram socialistas que almejavam construir uma nação igualitária numa imaginada terra sem povo. Moscou foi o destino da visita oficial inaugural de Golda Meir, a primeira chanceler de Israel. A URSS deu apoio a Israel nos difíceis anos iniciais, quando os EUA mantinham uma posição de neutralidade. O nacionalismo palestino é um fenômeno ainda mais recente que o Estado de Israel – e só se consolidou como reação à ocupação israelense da Cisjordânia, de Gaza e de Jerusalém Leste. Sob o Fatah ou sob o Hamas, os palestinos não terão democracia nem liberdade, mas unicamente as opções de um regime autoritário, corrupto e violento ou de uma teocracia islâmica na qual a lei derivará de uma interpretação literal dos textos sagrados.
A guerra ideológica nutre incessantemente a guerra real travada na Palestina. A falência sucessiva dos projetos de paz não decorre de divergências práticas sobre o traçado das fronteiras, mas do impasse de fundo gerado pelas duas metáforas sobre Jerusalém. Cada uma delas representa uma condenação histórica da outra nação e condensa uma vontade quase explícita de aniquilação. A paz na Terra Santa depende, antes de tudo, da denúncia das metáforas exterministas inventadas pelos ideólogos.






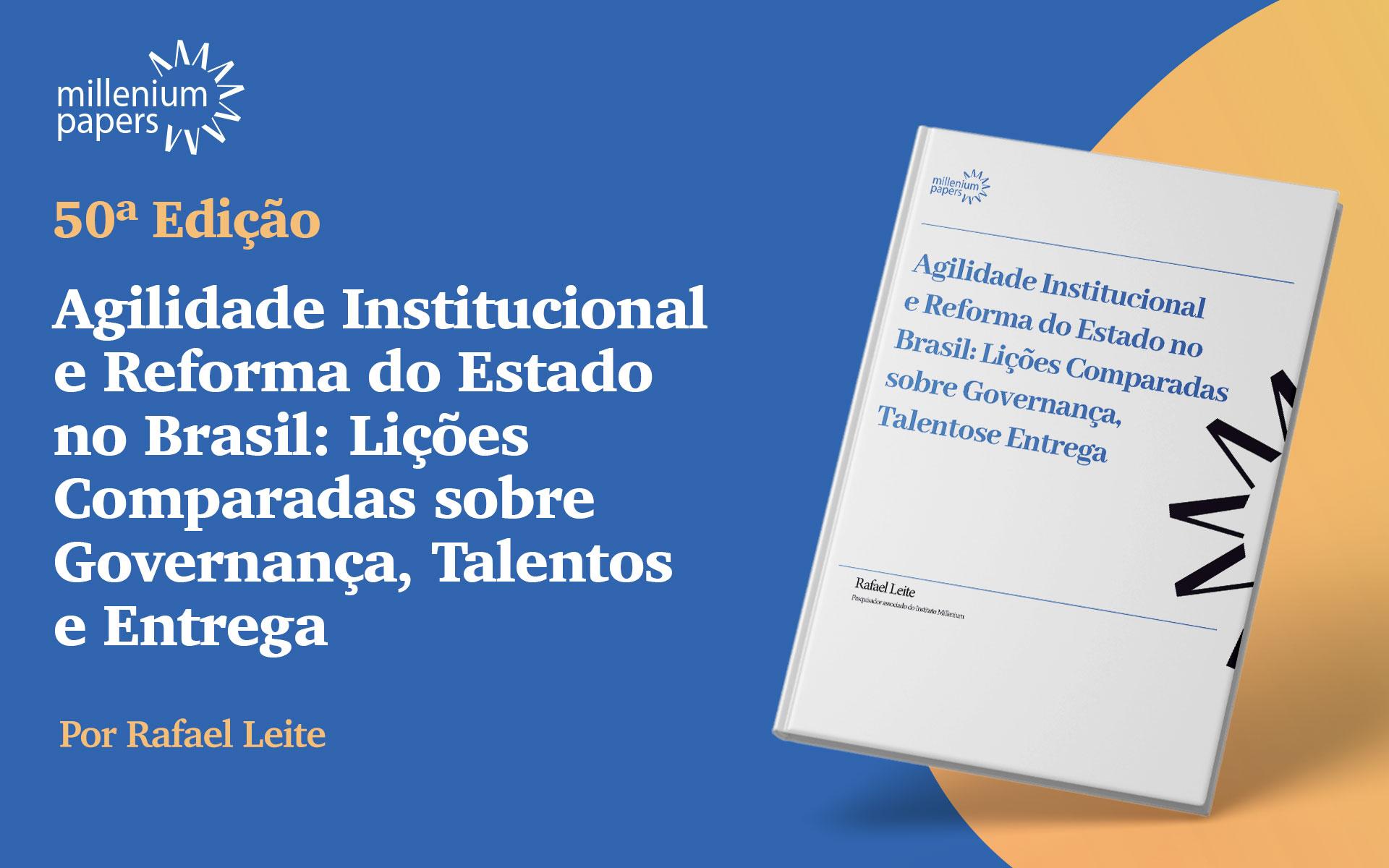

Sem Comentários! Seja o primeiro.