Nos últimos meses, até fins de maio, os mercados de ações experimentaram um galopante rally de valorizações, em muitos casos superando as perdas ocorridas no ápice da crise atual, entre setembro e dezembro do ano passado.
Muitas são as interpretações para este fato. Nós achamos, entre outros fatores, que esta onda otimista veio derivada, principalmente, de uma melhoria nas expectativas dos agentes diante da crise, com muitos já considerando a superação da sua fase mais aguda e o início de uma lenta retomada. Sendo assim, aproveitaram para “precificar” um ritmo de recuperação da economia, para muitos, irreal diante dos indicadores contraditórios divulgados. Em paralelo a isto, houve também um movimento de migração de investidores para os mercados emergentes, com maior risco, mas maior possibilidade de retorno, diante da depreciação dos ativos dos países ricos.
Em junho, finalmente, embora havendo quase consenso sobre a superação da fase mais aguda da crise, os mercados “caíram na real” sobre o longo caminho ainda a ser percorrido para a superação deste que já é considerado o pior mergulho recessivo desde a grande depressão dos anos 30. Sendo assim, um ajuste global neste mês acabou inevitável, já que os indicadores econômicos, na sua maioria, nos países ricos, continuavam ainda fracos.
O PIB norte-americano, por exemplo, veio com retração de 5,5% no primeiro trimestre, melhor do que o anterior (6,1%), mas ainda muito fraco. Boa parte desta queda pode ser debitada pelo nível alto dos estoques na indústria, o que acabou derrubando a produção industrial. Somadas a isto, as projeções do Banco Mundial e da OCDE mostraram uma queda maior do que o esperado nos países ricos, com a recuperação devendo vir lenta e no longo prazo.
Em paralelo, o debate em torno da trajetória preocupante dos Treasuries Bonds nos últimos meses, em forte tendência de alta, voltou à ordem do dia. Muitos interpretaram esta alta como um sinal de estabilização do mercado de títulos, depois da forte “seca” ocorrida ano passado no mercado interbancário, mas outros trataram de ser mais cautelosos, apontando para a deterioração fiscal e os riscos inflacionários no longo prazo.
Na verdade, na superação da crise, tanto o Tesouro norte-americano como o Fed foram obrigados a atuar ativamente no mix monetário e fiscal, injetando muita liquidez na economia, além de emitir títulos públicos diante de uma alta forte das despesas públicas. Lembremos das “estatizações” do sistema bancário. Isto acabou elevando o endividamento e o déficit público a níveis insustentáveis no longo prazo. Para piorar, recentemente, as agências de classificação de rating rebaixaram a dívida soberana do Reino Unido AAA, de estável para neutra, o que acabou sendo interpretado como um sinal de alerta para o governo norte-americano. Muitos acham que eles serão a “bola da vez”.
Isto acabou provocando tensão nos mercados de títulos, já que os investidores passaram a exigir maiores “prêmios” para carregar os treasuries norte-americanos, ajudando no financiamento da dívida pública (“rolagem dos títulos no mercado”). Para piorar, neste ambiente de deterioração da atividade, das expectativas e das contas públicas, vem ocorrendo uma migração forte para outros ativos – papéis, ações, fundos de commodities – e moedas dos emergentes, o que vem depreciando ainda mais a cotação do dólar, elevando a rentabilidade dos títulos.
Os T Bonds de 10 anos, depois de registrarem 2,08% anuais no dia 18 de dezembro do ano passado – período ápice da aversão ao risco -, foram a 3,55% anuais no dia 25 de junho passado, e os de 30 anos, no mesmo período, passaram de 2,53% para 4,33%. Calcula-se no mercado que os T Bonds de 10 anos devem ir a 6,0% num prazo de dois anos. Um receio dos emergentes, inclusive, com a alta dos T Bonds, será o “encarecimento” das captações externas, afetando também a cotação das commodities.
Por outro lado, nos papéis mais curtos, de 2 anos, observou-se, por exemplo, uma taxa de remuneração mais baixa, o que indica que no curto prazo, diante do cenário de deflação existente, a tendência é do Fed manter a atual política, de juro zerado e ajuste quantitativo.
Na decisão do Fed na semana passada, outra preocupação foi com a inflação mais alta no futuro, já que os custos de energia já começam a pesar diante de um barril de petróleo no terreno de US$ 70. Isto, no entanto, parece afastado por enquanto, já que o produto potencial da economia norte-americana continua baixo neste momento. Por outro lado, não se pode descartar a hipótese de um endurecimento monetário nos próximos anos, diante da retomada da economia da economia e do encurtamento do chamado hiato do produto, no diferencial entre produto potencial e efetivo.
O principal foco das preocupações, no entanto, deve ser mantido na necessidade de normalizar o fluxo de crédito da economia norte-americana, sustentada, na sua maioria, pelo consumo, cerca de 70% do PIB, mas é preciso atenção para a trajetória das contas públicas.
A dívida pública norte-americana, atualmente, está em cerca de US$ 11,5 trilhões (45/50% do PIB). Em 2008 estava em torno de 44% do PIB e deve passar de 70% nos próximos anos. Já o déficit público, US$ 892 bilhões em 2008, deve passar de US$ 1,85 trilhão neste ano, caminhando célere para US$ 3 trilhões nos próximos anos, passando dos 12% do PIB.
Em suma, a situação das contas públicas nos EUA é extremamente delicada, o que vem corroendo a credibilidade do governo na sua capacidade de rolagem da dívida. As últimas ações fiscais “anticíclicas” contribuíram para superar o pior da crise, evitando uma depressão na economia norte-americana, mas trouxeram custos para o futuro. A “fatura” desta expansão fiscal terá que ser paga em algum momento. Se um governo tem credibilidade nas suas ações, a rolagem da dívida acaba administrável, desde que ações corretivas sejam empreendidas.
Como o governo Obama se encontra em início de mandato, um pacote de medidas nas diversas áreas da economia – como infraestrutura, saneamento, educação, etc -, acabou anunciado, pressionando ainda mais as contas do setor público. Ou seja, uma bomba de efeito retardado vem sendo montada.
Portanto, é provável que tenhamos um período longo de baixo crescimento na economia norte-americana, sem o susto de uma depressão. Uma nova crise, fruto de um default desta dívida, no entanto, não pode ser totalmente descartada. No passado recente já tivemos crises geradas pela quebradeira de empresas, como a crise das ponto-com e das concessionárias de energia, depois tivemos crises bancárias afetando a economia real, como esta que estamos vivenciando.
A próxima da fila, portanto, poderá ser uma crise, bem mais profunda e de difícil solução, gerada pela falência dos governos soberanos. Será possível? Estejamos atentos, mas seria de bom agouro o governo Obama começar a pensar em fazer alguma coisa no front fiscal, com ajustes nas suas despesas.






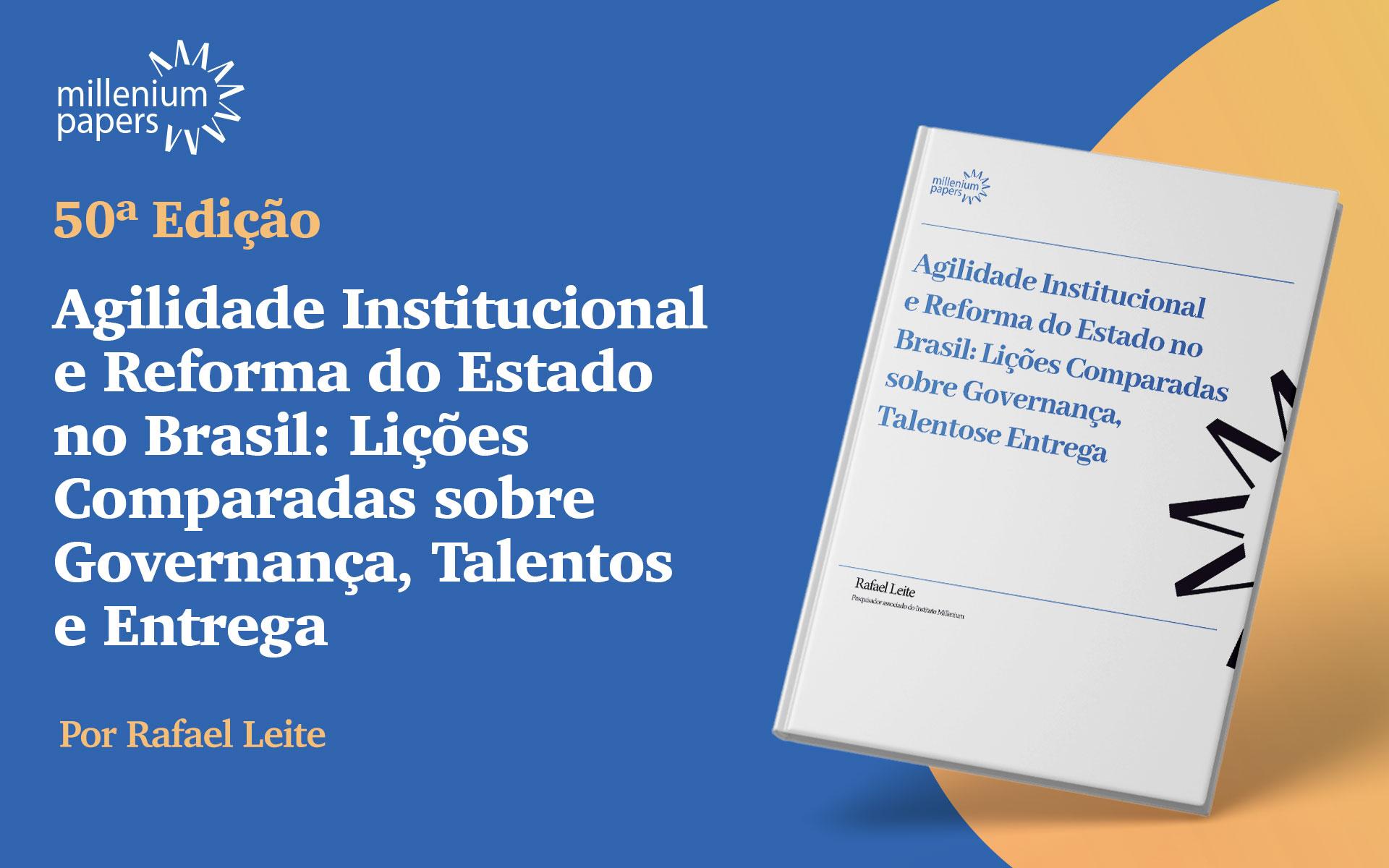

Sem Comentários! Seja o primeiro.